Me lembro de quando era uma garotinha de 4 anos de idade sentada ao lado de meu pai no sofá, enquanto ele ligava seu Atari 2600 e me explicava os comandos básicos do jogo Kangaroo.Jogar sempre foi algo corriqueiro em minha família e entre minhas amiguinhas: em casa minha mãe nos reunia ao seu redor para palpitar em games do gênero adventure como Full Throttle e Torin’s Passage enquanto ela jogava; e na escola minhas colegas passavam bilhetinhos contendo listas de fatalities de Mortal Kombat. Como tantas garotas que tiveram sua infância na década de 90 e viram os videogames se tornarem cada vez mais populares, nunca cogitei pensar que eles não eram “coisas para menina”.

As estatísticas confirmam que minha experiência está longe de ser exceção. Segundo pesquisa divulgada pelo Ibope Media em 2012, as mulheres representam 47% dos consumidores de games no Brasil. Um levantamento da Entertainement Software Association referente a 2013 revelou que no mercado norte-americano, a participação feminina é de 45%, sendo que mulheres com 18 anos ou mais representam 31% dos gamers, enquanto homens com 17 anos ou menos representam 19%.
Apesar dos números favoráveis, fico intrigada com a discrepância entre esses dados e a enorme resistência que as mulheres ainda enfrentam no mundo dos games. Por muito tempo joguei apenas em casa e na casa de familiares e amigos, espaços seguros em que no máximo os garotos se provocavam dizendo que a “menininha” estava massacrando um deles no Mortal Kombat. Minha primeira experiência com games online, Ragnarok, foi chocante: era difícil passar meia hora online sem ser questionada se era mulher mesmo, qual meu peso, se tinha fotos para postar, se realmente sabia como funcionava o jogo.
Conversando com outras mulheres gamers, encontrei muitas vivências semelhantes. A psicóloga Luana de Oliveira teve uma iniciação no mundo dos games bem parecida com a minha. “Meu contato com videogames foi bem precoce, lá pelos dois anos de idade eu já comecei a ensaiar um ou dois movimentos no Atari do meu pai. Meu pai sempre amou jogos eletrônicos, inclusive venceu um campeonato estadual de pinball. Devo a ele o ingresso nesse universo” contou. “Durante a infância a situação era mais tranquila, o videogame era como um brinquedo qualquer. Na adolescência, ao frequentar eventos de jogadores, montar grupos para jogar, participar em campeonatos e interagir em fórum de discussão comecei a tomar uma noção do quanto o ambiente nos é muitas vezes inóspito. Acredito que as situações mais comuns vão desde termos conhecimento e habilidade o tempo todo em fase de comprovação pelo motivo de ser mulher até as situações de abuso sexual, como a insistência para que sejam mostradas fotos de seios ou os assovios e cantadas ao usar um cosplay”.
Percebi em minhas entrevistas que as mulheres começam a jogar tão cedo quanto os homens, cedo demais para que o repetido clichê de “mulheres só jogam para atrair atenção masculina” se justifique. “Quando comecei a jogar? Nossa! Desde os quatro anos, no Super Nintendo. E desde os cinco anos, no computador” diz a gamer Thaís Guimarães. “Ganhei um Super Nintendo com uns 4 anos. Jogo desde então! Já joguei muita coisa” conta Thaís Lima.
Mesmo com a expressiva participação feminina no mercado de games, recentemente alguns acontecimentos bem mais graves do que comentários furiosos em grandes sites de notícias e provocações nos chats de MMORPGs têm mostrado que o preconceito contra mulheres ainda é forte. Ao assumir o comando do Xbox One esse ano, a executiva Julie Larson-Green sofreu algumas hostilidades de jogadores que acreditam que uma mulher não seria adequada para o cargo. Outro caso de bullying contra mulheres no meio gamer que ganhou muita visibilidade foi o da videologger Anita Sarkeesian, que sofreu ataques violentos através da internet ao anunciar sua intenção de fazer uma série de vídeos analisando videogames sob uma perspectiva feminista.

Intimidações e agressões não são exclusividades dos gamers, elas estão presentes em qualquer fandom onde um membro quer provar sua superioridade sobre outro demonstrando mais conhecimento, habilidade ou o tão arbitrário “bom gosto”. Observei muito disso entre metaleiros, otakus e fãs de RPG durante minha adolescência, e recentemente tive uma conversa com amigas que reclamavam da mesma prática entre programadores e desenvolvedores Linux. Entre fãs de videogames o flaming acontece também em situações que independem de gênero, mas em que os gamers se sentem ameaçados ou contrariados: o desenvolvedor Phil Fish, por exemplo, desistiu de lançar FEZ II após ser hostilizado no Twitter. Outro fator que contribui para inflamar as animosidades é a natureza competitiva dos games, que impulsionam disputas nas comunidades.
Porém as mulheres encontram um obstáculo a mais nesse campo minado de egos: ser “mulherzinha” tem uma imagem negativa no meio gamer. É uma provocação tão repetida e normalizada que muitas vezes nem percebemos ela acontecer. A gamer Luiza Utsch, que joga desde os 9 anos, teve uma experiência positiva em ambientes gamers, mas mesmo assim não saiu ilesa desse clichê: “não me lembro de ter sofrido discriminação, mas o único jogo que joguei extensivamente em um ambiente onde as pessoas não eram meus conhecidos foi Team Fortress 2, um jogo com um número anormal de mulheres (ainda baixo, mas acima da média). Pensando bem, já devo ter ouvido algum ‘joga bem pra uma mulher’, é comum demais né, que foi insignificante pra mim.” Mesmo quando não são abertamente discriminadas ou agredidas, uma mulher que frequenta ambientes gamers vai se deparar com, no mínimo, surpresa. “Não sofri discriminação escancarada, mas algo mais velado. Sempre frequentei fliperamas, inclusive os de bairro, menores e com fichas mais baratas. A maioria dos rapazes me olhavam com aquela cara de ‘WTF uma menina tá fazendo aqui’, e me subestimava. Não costumo jogar online, mas quando joguei as reações não eram muito diferentes: ‘Você é mesmo mulher?’, ‘Poucas meninas gostam dessas coisas que você gosta’, como se, com isso, estivessem quase tecendo elogios” conta a gamer Allana Dilene.
Mas porquê essa resistência toda? A psicóloga Luana, que pesquisou a comunidade gamer e escreveu um artigo sobre videogames como experiência simbólica compartilhou sua opinião de especialista. “O patriarcado é a ideologia na qual o homem é a autoridade e a mulher acaba renegada ao status de propriedade, controlada em seu comportamento e estética, infantilizada, tratada como um tipo de ser ‘derivado do original, diferente deste em sua raiz’. Essa forma de pensar, sentir e estruturar relações humanas é presente nos namoros, na escola, no trabalho, na família e também nos videogames. O patriarcado e o mercado se retroalimentam, cada um dá forças para que o outro se estabeleça cada vez mais… e videogame é também uma questão de cultura e mercado. Enquanto formos reforçados e reforçadas quanto à ideologia patriarcal, os mitos de beleza e a divisão de características por gênero, homens e mulheres serão motivados a agirem dessa forma. E quando afirmo que isso também afeta o comportamento das mulheres me refiro à internalização dessas agressões, seja a própria jogadora se sentindo ‘inadequada, incapaz, feia, envergonhada, burra’, seja dizendo o mesmo de outras jogadoras” explica.
Lizia Mara Caetano e Gabriela Freitas, gamers e estudantes de Ciências Sociais, também explicaram um pouco desse fenômeno. “Provavelmente os gamers têm medo de perder ‘privilégios’, porque games são ambientes em que praticamente tudo é feito para exaltar a masculinidade deles. É lutar, é confronto, é camaradagem, é poder falar bobagens e piadas chulas sem serem julgados, ou seja, é um ponto de fuga de uma realidade em que a mulher conquistou espaço retirando os privilégios deles” afirma Gabriela. Lizia concorda: “as pessoas ainda têm muito a mentalidade de ‘coisas de meninos/coisas de meninas’ e ser gamer é considerado em nossa cultura coisa para menino! É o mesmo que acontece com mulheres que escolhem profissões socialmente tidas como masculinas”.
“Eu ainda enxergo uma separação muita clara no mundo gamer entre rosa e azul, entre jogo de menina e menino, por mais que o lado azul seja imensamente maior. Quanto mais próxima nós nos mantivermos do rosa, mais bem recebidas seremos (talvez por que então seremos recebidas por nós mesmas). É menos provável que eu seja hostilizada jogando Barbie Adventure ou Candy Crush, que não por acaso são jogos bastante casuais. Se eu quiser jogar WoW a história vai ser outra” afirma a blogueira Carolina Stary, que publicou o “Manifesto da Garota Gamer” , um texto em que conta já ter ouvido coisas como “vish, teve update com skin de Hello Kitty no game, foi?” e que foi muito compartilhado e comentado nas redes sociais. “Foi bacana demais! Eu fiquei muito feliz com a visibilidade que ele alcançou. Eu recebi muitos comentários positivos vindo das mulheres e isso me fortaleceu bastante, espero que de alguma forma tenha fortalecido à elas também. Me surpreendeu inclusive a resposta do público não gamer, que mesmo sem entender grande parte dos termos e chavões do texto conseguiu sacar o sentido da coisa e repassar o negócio para seus filhos e filhas gamers, por exemplo” conta ela.
E os homens, o que disseram de seu manifesto Carolina? “Claro que rolou também feedback da parte deles, mas no geral eu senti um silêncio meio perturbador de quem se identificou com o perfil de babaca que eu descrevi” conta. Seria esse desconforto em se reconhecer em um comportamento que tem recebido tantas críticas um dos motivos para as reações exaltadas em comentários de textos que abordam o tema? A blogueira também reflete a respeito: “quanto maior a visibilidade do conteúdo, maior o volume de agressões. Nesses momentos fica explícito o que significa ter privilégios e querer mantê-los só para si ou para o seu grupo social. É uma briga tão política quanto pessoal, você vê muitos orgulhos feridos… Ou melhor: muitos orgulhosos feridos.”
Carolina chamou seu tumblr de “Derrubando o partriarcado – um servidor por vez”. Questionei se a expressão “um servidor por vez” vinha da percepção de que agressões sexistas são mais comuns em games online. “O ambiente online é o ambiente gamer com o qual eu estou mais familiarizada, talvez a expressão se deva a isso. Mas eu não tenho dúvidas quando afirmo que a internet e o mundo virtual favorecem esse tipo de conduta. Estar atrás de uma tela desumaniza ainda mais as relações e abre uma brecha pro escapismo. É muito fácil comprar a ideia errada de que aquele não é um lugar social e o que você faz ali não tem impacto ou consequências reais. Ali você ‘pode’ assumir uma outra identidade, cuspir todo e qualquer discurso, agredir seja lá quem for e continuar sob a proteção do hardware/software” refletiu.
Tais Fantoni, também gamer e blogueira do assunto conta que para evitar experiências negativas em jogos online preferia muitas vezes esconder seu gênero:“falando de um modo bem generalizado, na maior parte do tempo o que passei foi mais manifestações de surpresa ou admiração do que desprezo. Só que como eu já esperava isso acontecer, não foram raras as vezes que me fiz passar como um cara no jogo” conta.
Outro ponto sensível na discussão do sexismo no meio gamer é a forma como as mulheres são representadas nos jogos. Questionar a imagem passiva e hipersexualizada de nosso gênero nos games foi justamente o estopim para todas as agressões e ameaças que Anita Sarkeesian sofreu com seu projeto Tropes vs Women in Games. E ela não é a única a reclamar disso: como somos praticamente metade do mercado consumidor de games, é natural que procuremos jogos com os quais possamos nos identificar, o que raramente acontece. As mulheres nos games acabam sendo, em sua maioria, donzelas em perigo ou lutadoras mortais com seios antigravidade, malhas coladíssimas e sapatos tão altos que provocam um arrepio de dor em nossos tornozelos só de observá-los.

Um pai chamado Mike Hoyes percebeu essa lacuna de heroínas que fossem modelos acessíveis para sua filha e hackeou o game The Legend of Zelda: The Wind Waker para transformar Link em uma menina. Outras garotas preferem a ironia para expor o ridículo dessas limitações, como a administradora do Tumblr Repair Her Armor, uma gamer que usa o nickname Tica. Um dos posts ilustra o descontentamento da autora com os clichês de armaduras dos MMORPGs. É um sentimento que muitas de nós compartilhamos, eu não saberia dizer quantas vezes percorri uma lista imensa de avatares pensando “por que não calças, botas e uma blusa larguinha?”.

A psicóloga Luana concorda com a necessidade de mais diversidade feminina nos games. “Videogames são histórias e também tornam possível o contato com diversas questões humanas: frustração, (quem não se recorda da raiva que era morrer próximo ao final? E na época em que não havia como ‘salvar’?), a jornada do herói, a finitude, o término de ciclos, como lidar com os recursos disponíveis (poções, armas, dinheiro…), a amizade, o amor… Mesmo quando uma personagem feminina é criada como ‘forte e protagonista’, que tipo de personagem ela é? Geralmente uma mulher branca, heterosexual, magra, utilizando roupas que visam mais o deleite masculino do que a praticidade e proteção. É claro que no videogame há lugar para a sensualidade, para a fantasia e para a beleza, mas… precisa ser tão restrito? Não existem outros corpos e comportamentos que possam ser contemplados? O que é belo é tão específico assim? É isso que meninas jogadoras aprendem que devem seguir para serem aceitas, é isso o que meninos jogadores aprendem que devem admirar. Não se sentir contemplada é algo que fere a autoimagem e dificulta a empatia com as personagens femininas. Não há como ‘se ver’ como elas e entender seus conflitos e dramas, já que elas parecem na verdade serem ideais, infalíveis.”
E as mulheres não estão ocupando apenas o mercado consumidor, mas também o mercado de trabalho em games, e podem trazer um novo olhar derivado de suas experiências para a indústria, embora provavelmente devam enfrentar alguma resistência motivada pelo apego aos estereótipos no meio gamer. Giulia Yamazaki Souza é graduanda em Design de Games e me contou sobre sua experiência ao criar um game com personagens femininas fora do padrão: “O último jogo que meu grupo fez, no estilo plataforma, tinha como protagonistas um casal homossexual de mulheres. Quando eu contava isso aos meus colegas, alguns chegavam a perguntar se o jogo ia ser ‘de pegação de lésbicas’. Eu respondia dizendo que um casal gay não tinha nada a ver com um jogo relacionado a sexo, e que ele não deveria chamar a atenção por causa disso. Era um jogo com personagens, como qualquer outro, com mais destaque para a mecânica do que para a história” conta.
Cecilia Souza Santos, artista de pixel arte que há 5 anos presta serviços para desenvolvedores indies, conta que felizmente nunca se sentiu discriminada como profissional, mas que os estereótipos femininos afetaram certos aspectos de sua vivência como mulher transexual e gamer. Ela percebeu que mulheres que jogam em posições de suporte (como cura), adotam avatares dentro do clichê feminino e não questionam agressões são mais bem recebidas por estarem dentro do esperado para nosso gênero. “Ironicamente esse costuma ser o perfil mais usado por homens que tentam criar personagens femininas para obter benefícios” observa ela. Apesar de Cecilia acreditar que atualmente estão sendo feitos mais esforços no sentido de conscientizar os gamers a respeito das discriminações, ela ressalta que o ambiente ainda pode ser muito hostil para minorias e garotas que não estão nos padrões estereotipados do meio. “Se pra uma garota cis (cissexual é o termo para pessoas não transexuais) pode ser chato ser chamada de ‘mano’, ‘manolo’, ‘brother’ e tratada no masculino até ela explicar ou provar que é mulher, imagine pra nós trans, naturalmente inseguras e incomodadas com a identidade de gênero que não nos representa” explica.
A pesquisadora, ilustradora e curadora do festival FILEgames Anita Cavaleiro também percebeu a força dos estereótipos no meio gamer. “Nunca tive de fato empecilho para trabalhar na área, mas como tanto como curadora quanto gamer ouvi várias vezes ‘Nossa, mas você não parece uma nerd do videogame. Você realmente jogou todos esses jogos? Nunca poderia imaginar!’. Por mais velado que seja, é uma super discriminação! É dizer que é inimaginável que eu possa ter determinados interesses, ocupar determinado cargo e fazer um bom trabalho (afinal, meu trabalho tem como premissa conhecer o mercado de jogos independentes, ou seja, jogar todos aqueles jogos e muitos, muitos mais) simplesmente porque não faço parte de um estereótipo” reflete.
Apesar dessa percepção, Anita demonstra otimismo ao falar do mercado e das crescente participação feminina no meio gamer. “ As mulheres ainda não são o público-alvo, mas hoje em dia já existem muito mais jogos com personagens femininas bem desenvolvidas, jogáveis e bastante interessantes, deixando de lado o estereótipo da personagem secundária, dotada de grande apelo sexual, ou frágil e indefesa que deve ser resgatada pelo protagonista. Existem também hoje em dia muito mais jogos desenvolvidos por mulheres, principalmente no mercado independente. Nós somos sim, um público participativo e que cada vez mais se pronuncia a respeito de seus interesses, desejos e incômodos em relação à indústria dos games. Muitas mulheres gamers possuem tumblrs, blogs e até webshows sobre cultura gamer e o público feminino, o que nos dá bem mais visibilidade do que há alguns anos e torna os games mais convidativos ao público feminino.”
Felizmente percebi que esse otimismo é compartilhado por muitas gamers com quem conversei. Várias delas inclusive têm como companheiros de hobby homens que as apoiam e participam de suas experiências como players, como Luiza: “meus amigos homens e meu marido, sempre jogaram comigo. Alguns amigos, inclusive, conheci por causa dos jogos! Quanto a como eles enxergam a discriminação, não há consenso. Alguns acham ‘exagero’, ‘não achei nada de errado’, mas outros enxergam os problemas e criticam.”
O fato do sexismo nos games estar sendo muito discutido atualmente também é visto como positivo, como ressalta a integrante da Imbalanced Gaming Jéssica Passos: “Agora temos dados, e melhor poder de argumentação. Toda vez que dizem que é raro mulher gamer, eu já posso falar que cerca de 40% dos gamers são mulheres. Toda vez que me dizem que jogos online são coisas de perdedores e solitários, eu posso responder que o índice de solteiros em World of Warcraft (que tem um proporção boa entre jogadores e jogadoras) é menor que a média da população brasileira. Toda vez que me dizem que não há maus tratos a mulheres que jogam, eu posso apontar alguns casos, com reportagens e tudo o mais que mostram que há sim casos absurdos. E quanto mais se fala nisso, quanto mais se expõe, mas se pode discutir e esclarecer, e claro, educar.”
Pessoalmente, acredito que apoiando a diversidade nos games, nós ajudamos a atrair público e a fortalecer a indústria que tanto amamos, além de colaborarmos para um mundo mais livre e divertido para todos. Luana de Oliveira, a psicóloga e pesquisadora gamer, concorda. “Veja que não se trata de ‘encontrar culpados’ e nem dizer que os homens são horríveis e as mulheres ‘deixam isso acontecer’, nada disso. É perceber o quanto o patriarcado oprime tanto homens quanto mulheres e cobra de ambos comportamentos estereotipados e restritos. A sorte é que não apenas somos moldados pela cultura, mas somos também capazes de transformar o meio pela da forma com que conduzimos nossas relações conosco e com a sociedade” conclui ela.
(A ilustração que abre essa matéria é um trabalho do artista Metrokard, com adaptação e montagem de Rodrigo Sanches.)
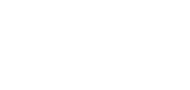

























![Bonus Stage UPDATE [24 a 30/5]: FIFA 16, Resident Evil e Heroes of the Storm](https://www.bonusstage.com.br/wp-content/uploads/2015/05/update-28.jpg)












[…] quadrinhos e literatura fantástica. Atualmente, é colaboradora de dois sites: o Bonus Stage, onde escreve sobre games, e o Além da Tela, onde fala mais sobre feminismo. Beatriz […]